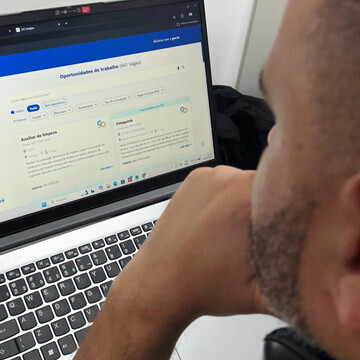Especialistas analisaram como o Estado estruturou desigualdades históricas e discutiram os efeitos do racismo estrutural sobre populações negras e indígenas
No Brasil, refletir sobre a Consciência Negra vai muito além da celebração identitária; trata-se de revisitar criticamente o legado colonial que ainda orienta as relações sociais. Em um país onde a desigualdade se organiza majoritariamente a partir da raça, discutir território, cidadania e reparação não é uma opção, mas um compromisso com a memória e com a verdade histórica. Todos os anos, em novembro, a sociedade é convocada a encarar que a liberdade conquistada pela população negra não foi acompanhada de políticas que garantissem sua inclusão plena.
Com a intenção de inserir esse debate na formação crítica do estudante de Direito, a Universidade Tiradentes (Unit) promoveu, nesta segunda-feira, 24, o evento “Dia da Consciência Negra: Entre o Direito ao Território e a Reparação Histórica”. A atividade reuniu professores, pesquisadores e discentes em um diálogo aprofundado sobre território, Estado e justiça reparatória. Organizado pela pós-graduação em Direitos Humanos, juntamente com a graduação em Direito, o encontro buscou transformar a data em um momento de reflexão qualificada.
O professor Fran Spinoza, que leciona nos dois níveis de formação, destacou que a proposta surgiu da necessidade de ampliar o entendimento dos estudantes sobre as raízes históricas do racismo no Brasil e seus impactos atuais. “Pensamos o evento como uma forma de marcar o Dia da Consciência Negra e oferecer aos nossos alunos instrumentos analíticos, por meio de debates e pesquisas, para compreender as causas históricas da exclusão da população negra, além de permitir que conheçam pesquisadores dedicados a esse tema”, afirmou.
Fran observou ainda que a desigualdade na América Latina, especialmente em países como Brasil, Colômbia e Guatemala, carrega um componente racial central. Segundo ele, os indicadores sociais demonstram que populações negras e indígenas concentram os menores índices de renda e acesso a direitos. “Discutir isso na universidade é indispensável porque desafia narrativas que naturalizam a desigualdade. O fator racial aparece de forma constante quando analisamos quem ocupa as posições mais vulneráveis. Enfrentar essa realidade é urgente”, completou.
Estado, legislação e reparação
A advogada e pesquisadora Jucivânia Souza, mestre e doutoranda em Direitos Humanos, apresentou uma reflexão histórica sobre como o Estado brasileiro produziu desigualdades ao longo de sua formação. Em sua fala, ela traçou um panorama que atravessa o período colonial, o Império e a República, mostrando como legislações foram utilizadas para excluir a população negra da cidadania plena. “Procurei demonstrar como essas normas ajudaram a estruturar desigualdades e como, a partir da Constituição Federal, novas leis passaram a ser impulsionadas pelas lutas do movimento negro para promover igualdade racial”, afirmou.
Jucivânia apontou que, apesar de avanços como a Lei de Cotas e dispositivos antidiscriminatórios, a desigualdade racial continua sendo estrutural. Para ela, muitas pessoas vivenciam discriminações cotidianas sem compreender como instituições e normas sustentam essa hierarquia. “A falta de letramento racial reforça mecanismos de violência simbólica, institucional e econômica, afetando oportunidades no trabalho, no acesso à educação e nas relações sociais”, destacou.
A pesquisadora também salientou que o Brasil é um dos poucos países com um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dedicado especificamente à igualdade étnico-racial. Ela contextualizou essa particularidade lembrando que mais de quatro séculos de escravidão deixaram marcas profundas. “Debater igualdade racial é tratar do presente, da necessidade de reparação histórica e do papel do Estado em garantir dignidade às populações negras e indígenas”, afirmou. Para ela, esse é um tema indispensável em qualquer projeto democrático que busque pluralidade.
Violência, território e juventudes
O debate sobre desigualdade racial também se voltou ao espaço urbano. O advogado e pesquisador Raphael Dantas Menezes, mestre em Direitos Humanos e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, apresentou reflexões baseadas em sua dissertação, que originou o livro Ausência de Paz nas Comunidades Periféricas em Sergipe: Uma Vivência Violentada. Raphael explicou que sua pesquisa discute como as periferias não apenas enfrentam violência, mas têm suas estruturas sociais, econômicas e territoriais permanentemente feridas. “As condições de vida e o território produzem fatores que intensificam um ambiente de ausência de paz, marcado por injustiça e desigualdade. É um ciclo que se realimenta”, afirmou.
Ele destacou que o estudo reuniu referências teóricas e observações empíricas, incluindo análises de músicas, filmes e documentários como Meninos do Tráfico, de MV Bill. “Falar de Consciência Negra exige olhar para a realidade das periferias, onde jovens negros são frequentemente alvos de políticas de segurança pública baseadas em confrontos. O pertencimento territorial acompanha esses indivíduos mesmo fora da comunidade, contribuindo para estigmas que recaem sobre eles”, explicou.
Segundo Raphael, embora as periferias sejam espaços de resistência, produção cultural e comunicação comunitária, também concentram tensões derivadas da desigualdade histórica brasileira. “Entender essas dinâmicas é essencial para formular políticas públicas capazes de romper o ciclo de violência que atinge sobretudo jovens negros. Por isso, o território é um elemento central da luta antirracista”, completou.
Quilombos, disputa por terra e racismo estrutural
A advogada Stefany Caroline Okoh, especialista em direitos quilombolas, discutiu os desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais no processo de titulação de suas terras. Ela explicou que sua pesquisa analisa esse processo no Brasil, com foco em Sergipe, e dialoga diretamente com sua atuação profissional. “É um procedimento extremamente burocrático, lento e permeado por interesses políticos e econômicos, porque envolve a disputa pela terra, um dos recursos mais valorizados no sistema capitalista”, afirmou.
Stefany detalhou que muitos territórios quilombolas são ainda ocupados por fazendeiros, posseiros ou grupos externos, o que gera tensões, limita o uso da terra e provoca impactos ambientais. “Em Sergipe, dos 32 territórios quilombolas identificados, apenas dois foram titulados definitivamente. O decreto presidencial publicado no dia 20 de novembro foi um avanço importante, mas não encerra o processo, que demanda várias etapas administrativas e jurídicas”, informou.
Ao relacionar o tema à Consciência Negra, Stefany afirmou que a demora na titulação é uma expressão clara do racismo estrutural. Segundo ela, a expulsão de populações negras de suas terras após a abolição, somada à Lei de Terras e à ausência de políticas de inclusão, compôs um cenário de exclusão institucional. “Garantir a titulação é enfrentar o racismo estrutural e promover reparação histórica”, disse. Para ela, compreender esse processo é fundamental para entender a complexidade da luta quilombola e reforçar a centralidade do reconhecimento territorial como política pública.
Por: Laís Marques
Fonte: Asscom Unit